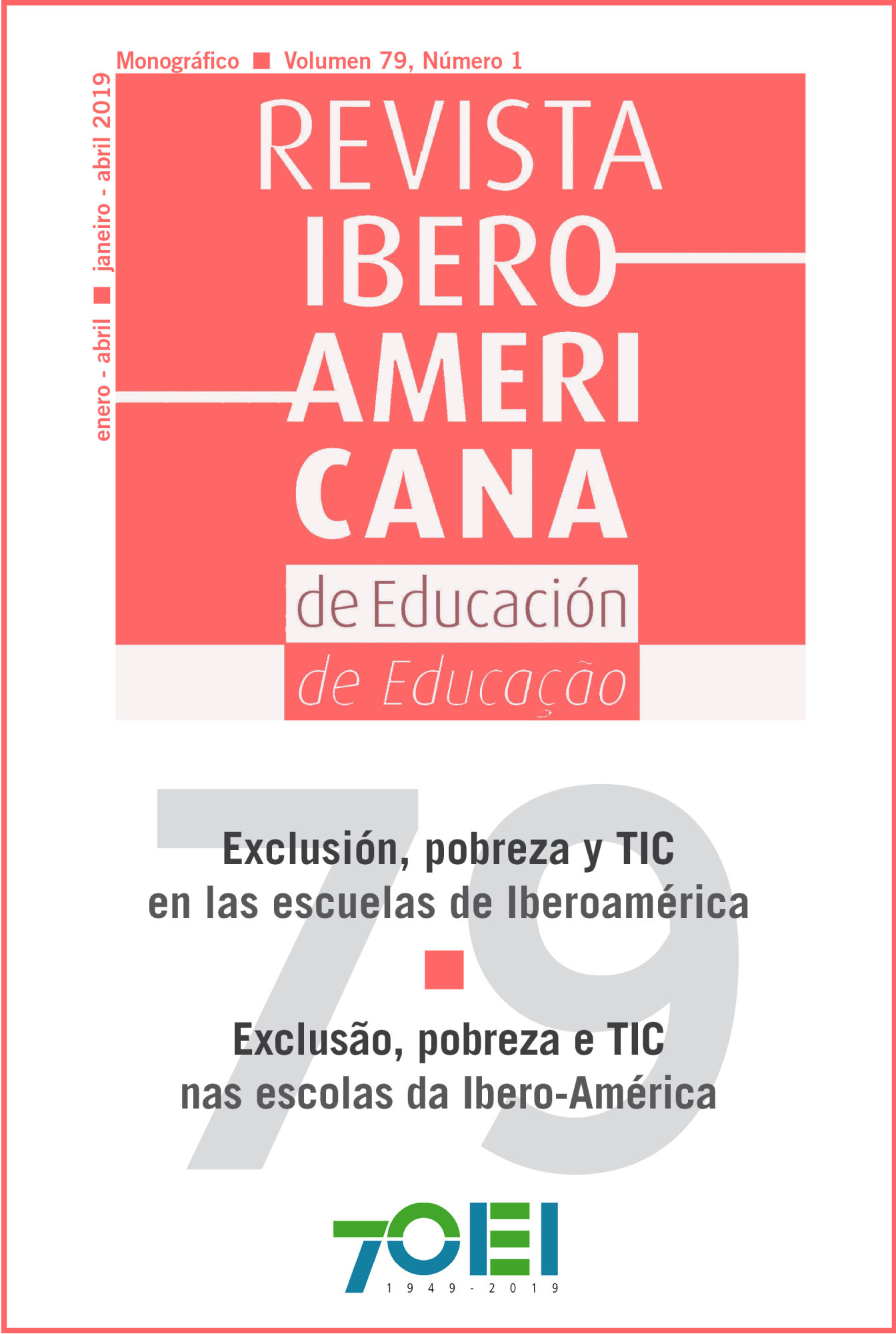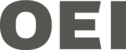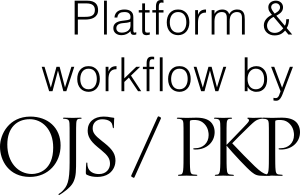Inclusão digital em uma escola do campo: movimentos provocados a partir da implantação de uma política pública no modelo 1:1
DOI:
https://doi.org/10.35362/rie7913409Palavras-chave:
Escola do campo; Letramento digital; Emancipação digital; Modelo 1:1.Resumo
Este trabalho apresenta um recorte de uma tese doutoral cujo foco era identificar e analisar os movimentos provocados em uma comunidade escolar após a implantação de uma política pública educacional: Programa Nacional de Educação no Campo (Pronacampo). O estudo qualitativo de cunho exploratório acompanha o processo desde a distribuição de laptops no modelo 1:1 em uma escola do campo, em regime de classe multisseriada - da Educação Infantil ao 5º ano, localizada no interior do Rio Grande do Sul (Brasil). A Cartografia, segundo Kastrup (2008), serve de inspiração para o método de investigação cujo objetivo é identificar e analisar as mudanças provocadas nas práticas dentro e fora da sala de aula nessa comunidade escolar a partir da inserção dos laptops. Os dados permitem perceber alguns movimentos significativos de mudança nas ações dos professores, estudantes e seus familiares. A análise desses dados é feita à luz de alguns conceitos construtivistas e de letramento digital. Percebeu-se que o longo período sem conectividade na escola não impediu que a comunidade escolar, em um esforço mútuo, com engajamento das famílias, encontrasse soluções criativas para explorar os recursos disponíveis como uma oportunidade de construção de conhecimento do mundo dentro e fora da escola.
Downloads
Referências
Barros, L.P.d. & Kastrup, V. (2010). Pista 3 - Cartografar é acompanhar processos. In: E. Passos, V. Kastrup & L. Escóssia. Pistas do método da cartografia: pesquisa-intervenção e produção de subjetividade (52-75). Porto Alegre: Sulina.
Boyd, D. (2014). It’s complicated: the social lives of networked teens. USA: Yale College.
Brasil (2010). Ministério da Educação. Programa Nacional de Educação no campo (PRONACAMPO), Brasília.
Brasil (2009). Ministério da Educação. Projeto Um Computador por Aluno – UCA: Formação Brasil, Brasília.
Brasil. (2007) Educação do campo: diferenças mudando paradigmas. Cadernos SECAD. Henriques, R., Marangon, A., Delamora, M. & Chamusca, A. Disponível em https://bit.ly/2IBgONd.
Brasil (1997). Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) – Língua Portuguesa: Ensino de primeira à quarta série. Brasília: Secretaria de Educação Fundamental.
Castells, M. (2003). A galáxia da internet: reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade. Trad. M. L. Borges. Rio de Janeiro: Zahar.
Cunha, M. A. (2009). A relação família-escola rural/do campo: os desafios de um objeto em construção. In: M. Aguiar, A. Siss , I. Oliveira , I. Azevedo & M. Alvarenga. Educação e Diversidade: estudos e pesquisas. (1) (213-234). Recife: Gráfica J. Luiz Vasconcelos.
Deleuze, G. & Guattari, F. (1995). Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia (1). Trad A.L. de Oliveira. Rio de Janeiro: Ed. 34 Letras.
Deleuze, G. e Parnet, C. (2015). Diálogos. São Paulo: n-1 Edições.
Demo, P. (2011). Olhar do educador e novas tecnologias. B. Téc. Senac: R. Educ. Prof., 37, 15-26. Disponível em https://bit.ly/2H5dd7Q
Demo, P. (2003). Instrucionismo e nova mídia. In: M. Silva, Educação online: teorias, práticas, legislação, formação corporativa, 75-88. São Paulo: Loyola.
Fagundes, L. C., Valentini, C. B. & Soares, E. M. S. (2010). Linguagem, educação e recursos midiáticos: quem mexeu na minha escola? In: C.M. Pescador, E.M.S. Soares & P.C. Nodari, Ética, educação e tecnologia: pensando alternativas para os desafios da educação na atualidade. (145-160), Curitiba: CRV.
Freire, P. (2004). Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra.
Fundação Telefônica (2018). Cidade de Viamão (RS) integra projeto de inovação na educação. Disponível em https://bit.ly/2GMETyX
Guattari, F. & Rolnik, S. (2000). Micropolítica: cartografias do desejo. Petrópolis: Vozes, 6.
Kastrup, V. (2008). O método da cartografia e os quatro níveis da pesquisa-intervenção. In: L.R. Castro & V.L. Besset. Pesquisa-intervenção na infância e juventude. (465-489) Rio de Janeiro: Nau.
Kastrup, V. (2007). O funcionamento da atenção no trabalho do cartógrafo. Psicologia & Sociedade, 19(1), 15-22.
Lopes, D. Q., Schlemmer, E. & Molina, R. (2014). Cartography mediated by digital technologies: new perspectives for ethnographic research.
Papert, S. (1990). A Critique of Technocentrism in Thinking About the School of the Future. Disponível em https://bit.ly/2UaZmka.
Paraíso, M. (2014) Metodologias de pesquisas pós-críticas em educação e currículo: trajetórias, pressupostos, procedimentos e estratégias analíticas. In: D. Meyer & M. Paraíso, Metodologias de pesquisas pós-críticas em educação. (2) (25-48). Belo Horizonte: Mazza Edições.
Parente, C. (2014). Escolas Multisseriadas: a experiência internacional e reflexões para o caso brasileiro. Ensaio: aval. pol. públ, 22, 57-88.
Passos, E., Kastrup, V. & Escóssia, L. (2014). Introdução: a experiência cartográfica e a abertura de novas pistas. In: E. Passos, V. Kastrup & L. Escóssia. Pistas do método da cartografia: a experiência da pesquisa e o plano comum. (7-14) Porto Alegre: Sulina.
Pescador, C.M. (2016) Educação e Tecnologias Digitais: cartografia do letramento digital em uma escola do campo. Tese (Doutorado Informática em Educação), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias em Educação, Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação, Porto Alegre, Brasil, Rio Grande do Sul.
Piaget, J. (1998). Sobre a pedagogia. Trad. C. Berliner. Casa do Psicólogo. São Paulo.
Porciúncula, M. M. (2009). A construção do conhecimento, as intervenções metodológicas e os novos saberes e fazeres na cultura digital rural. Tese (Doutorado Informática em Educação), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias em Educação, Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação, Porto Alegre, Brasil, Rio Grande do Sul.
Prado, M. E. B. B., Borges, M. A. F. & França, G. (2011). O uso do laptop na escola: algumas implicações na gestão e na prática pedagógica. In: M.E.B. Almeida & M.E.B. Prado. O computador portátil na escola: mudanças e desafios nos processos de ensino e aprendizagem. (60-72). São Paulo: Avercamp.
Silva, L. Q. & Scherer, S. (2014). Formação de professores para o uso de laptops educacionais: reflexões sobre o ensino de geometria. Revista Iberoamericana de Educación, 66(2), 1-13. Disponível em https://bit.ly/2GOPzwX
Romagnoli, R. (2009). A cartografia e a relação pesquisa e vida. In: Psicologia & Sociedade, 21(2), 166-173.
Schlemmer, E. (2013) Políticas e práticas na formação de professores a distância: por uma emancipação digital cidadã. In: Gatti, B., Junior, C. & Nicoletti, M. Por uma política nacional de formação de professores. (109-135) São Paulo: Unesp.
Soares, E. M. S., Valentini, C. B. & Pescador, C. M. (2011). Digital Literacy and construction of meaning. In: Proceedings of the 15th Biennial of the International Study Association on Teachers and Teaching (ISATT), Back to the Future: Legacies, Continuities and Changes in Educational Policy, Practice and Research, Braga, University of Minho. Braga (PT): Centro de Investigação em Educação (CIEd), p. 872-877.
Xavier, A. C. S. (2002). O Hipertexto na sociedade da informação: a constituição do modo de enunciação digital. Tese de Doutorado, Unicamp.
Como Citar
Downloads
Publicado
Edição
Secção
Licença
Os(as) autores(as) que publiquem nesta revista concordam com os seguintes termos: